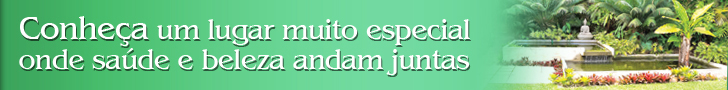Pedro Costa
Que não podia rir muito, não podia. Ainda mais barbudo dando risada em público. A coisa aqui andava preta. Só mesmo quem passou sabe, sem contar os que não conseguiram passar, foram apagados. Muita gente boa assassinada na cadeia com laudo de suicídio. Nas ruas a polícia quase sempre não tinha cara, podia ser qualquer um. Além da ditadura militar, reinava a paranóia. Tudo podia dar “bandeira”. Encostar na parede, levantar as mãos, fazia parte do cotidiano de todos, principalmente de jovens e estudantes. Para quem não sabe, revistaram tudo, perguntavam o que cada um fazia, lia ou escrevia. Se pegassem um exemplar do jornal Versus, Realidade, Pasquim… Estava frito. Muitos ainda lembram de algumas histórias, daqueles tempos pesados de um passado recente.
Um pouco mais que a metade deste triste período, talvez um pouco antes da Anistia, quando os generais – presidentes, começaram a tirar a farda e vestiram ternos e óculos escuros, não lembro a data precisa. Minha memória é musical. Sei que as rádios tocavam direto, “Que será que será”, o “Bêbado e o equilibrista”, o “Luar” do Gil…, que estes dois jovens moradores da Vila, Pedro e Zé, perambulavam anarquicamente por aí e como sempre confabulando pelas padarias. Enfim, havia nesta época na rua Medeiros de Albuquerque uma padaria sem nome e sem placa, onde íamos tomar a saideira, por que era um dos poucos lugares abertos até mais tarde. Os mais antigos lembrarão. Era um verdadeiro muquifo, aceso com pouca luz, na então pacata e tranqüila rua. Se os anos eram escuros, aquela padaria deserta era mais. A repressão ainda andava a solta.
Morávamos na Gonçalo Afonso. Nesta mesma rua, certa vez, passava para arrecadar dinheiro, um grupo da T.F.P, com aquela bandeirona vermelha batendo um tambor fúnebre, todos de terninho e sérios, defendendo em voz tênue, a tradição, a família, a propriedade…, quando estes dois vizinhos foram perturbados por este cortejo demente. Combinamos então, pelo baixo muro que separava nossas casas, em colocar nossas caixas de som nas janelas, a todo volume, tocando na vitrola o novo disco do Chico, com a música. “Geny”. Até a rádio-patrulha apareceu por lá. Confiscaram nosso som e carimbaram nossos dedos.
De volta à velha padaria, papo vem, papo vai, chega um toma um copo da nossa cerveja, ia embora, mais uma Genebra de quebra –gelo e papo vai. Dos bules do balcão saía uma névoa quente do café requentado e atrás dela o único cara da padaria, com um avental encardido mostrava seu samba incompleto, sacudindo um paliteiro desafinado. Eu e o Zé, a pedido do cara, tentávamos fechar a última estrofe do seu samba. Do nosso lado do balcão, atento e mudo, filando quietinho a cerveja, estava o garoto-velho, Ulisses, roupa surrada, um pé com sapato e outro inchado com chinelo, negro e banguela. Era daqui da Vila. Malandro pequeno, jardineiro nas horas vagas, afanava umas carteiras de vez em quando, mais nunca dos moradores da Vila Madalena, apenas nas redondezas da Lapa.
Ulisses, o jardineiro de chapéu de feltro era amigo somente do “Lábios de Mel”, o malandro romântico, do Alicate e do Sossêgo, neguinho maneiro, lento até para tocar o seu reco-reco nos ensaios da Pérola Negra. Assim como todo bairro tinha seus malandros, estes eram os nossos. Todos apagados, pelo terrível “Esquadrão da Morte”.
Na calada da noite, lá estava do nosso lado, sem se fazer notar, o neguinho Ulisses, quando… ÔÔOOOOOooooôooo de viés estaciona com tudo o camburão da Rota na porta da padaria. Vai direto para cima do único negro da roda: “Têm carteira de trabalho, vagabundo?” Não deixa nem responder: “Então, vamô com a gente”. Aquela estupidez e arrogância havia pego em cheio nossa bronca com o preconceito e o totalitarismo do momento, quando, num ímpeto o Zé vira para o soldado e diz: “ Se for levá-lo vai ter que levar a gente também”! De mim saiu um curto: “É isso ai”, em seguida pintou uma baita dúvida, mas já era tarde para consertar.
Depois o Zé também disse-me na hora, ter lembrado de Rosa Parks, a mulher que virou símbolo da luta contra a segregação racial nos EUA. Em 1955, num ônibus no Alabama, a costureira Rosa Parks, recusou-se a ceder o seu lugar a um homem branco e foi presa por isso. Sem saber que estava entrando para a história, este gesto serviu como estopim para motivar ativistas em todo o mundo. Surge o jovem Mártin Luther King. Anos de tumulto estavam apenas começando. Agora em outubro deste ano, morre Rosa Parks. Mas, como acredito que existam rosas que não morrem, rebrotam a todo instante em jardins proibidos, encantando e desafiando nossos gestos à questionarem o mundo; existem também, as pequenas daninhas, que impedem os olhares. Assim, o jovem cabo militar, optou por nos levar no camburão. O samba com o copeiro ficou sem terminar.
Como num filme com o zoom ao contrário, víamos o negrinho Ulisses ir ficando pequeno, saindo mancando, mostrando o punho e chutando lata, até virarmos rápido, quase em duas rodas, a esquina da Aspicuelta. Enquanto os pneus relinchavam, pensava na música recém-lançada do Chico: “Apesar de você, amanhã há de ser, outro dia…”