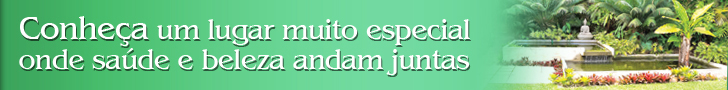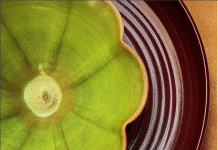Quando poucos acreditavam no futuro de Clint Eastwood como cineasta, no início dos anos 70, um filme de baixíssimo orçamento para os padrões hollywoodianos, “Play Misty for me” (Toque Misty pra mim) – chamou-me a atenção. Não lembro se o título em português era este, sua tradução literal. O filme de Eastwood, até então conhecido como ator dos faroestes de Sérgio Leone, considerados de segunda classe, prenunciava um diretor hábil, sensível. Duas décadas depois, o mesmo tema seria tratado por Michael Douglas com milhares de dólares a mais e sensibilidade de menos. O agora detentor do seu segundo Oscar de diretor nos traz “Menina de Ouro”. Na festa do Oscar alguém comentou seu aspecto de filme sobre “inclusão social”. Sobre inclusão/exclusão social pululam filmes, entre eles o ótimo e brasileiro “Cidade de Deus”, que não ganhou prêmio no ano passado, quando concorreu em quatro categorias.
“Menina de Ouro” trata da relação treinador/atleta (Frankie e Meg), pai/filha, filha/família; força de vontade, coragem, fidelidade e mais. Porém o que o faz singular é encarar o tabu da eutanásia. Sabia que se tratava de um filme sobre boxe. Se fosse isto, simplesmente, nem teria ido assistir. Na minha inútil opinião, boxe e rodeio são violência institucionalizada, não esportes. Foi minha confiança no “taco” de Eastwood que me fez assisti-lo num dia especial, com alguém especial – minha filha.
Há algo de mágico na sincronia ou é coincidência, simplesmente? Dias depois do Oscar voltaria à mídia o caso Schiavo. Não uma ficção, mas a luta real entre o direito de viver indignamente ou o de morrer com dignidade. Dignidade é sinônimo de honraria. Mas significa amor-próprio e, também, merecimento. Quanto vale uma vida? Um milhão de dólares? Mesmo que seja um inferno em vida?
Lembro que aos 19 anos, no meu primeiro ano de faculdade, o professor de Antropologia Cultural, Jomard Muniz de Britto disse: “a Arte é uma forma de conhecimento”. Nunca me dera conta. Como a maioria das pessoas, considerava a Arte uma forma de prazer estético, de entretenimento, de assunto pra conversa. Essa frase me fez encarar, dali em diante, a Arte com outros olhos. “Menina de Ouro” não foi pra mim apenas “conhecimento” da eutanásia. Foi reconhecimento. E por isso me emocionou.
Recordei meu pai na UTI, dizendo: “Minha filha, já não como mais, já não bebo mais, nada mais funciona. Por que não me deixam ir embora?” Se pra mim era insuportável vê-lo sofrer, o que não estaria ele sofrendo? Dias depois, ele já em coma, quando a médica sugeriu ministrar-lhe oxigênio pra que respirasse melhor, o que prolongaria a agonia, eu disse-lhe: “Deixe a natureza seguir seu curso”. Alguma coisa se partiu dentro de mim. Quase cheguei a ouvir. Dois dias depois meu pai morreria. Antes do coma deixara determinadas suas vontades e até escolhera a roupa com que queria ser enterrado. Seu exemplo de coragem diante da vida e da morte espero ter herdado. Quase não chorei. Costumo, nessas horas, ter reações retardadas.
Há cerca de cinco anos, quando me vi diante do corpo do segundo animal que tive que mandar sacrificar, chorei convulsivamente. Eu sabia que não era só pela gatinha que havia recolhido da rua, uma hora antes, com a mandíbula irremediavelmente quebrada. Mas reconhecer o que se partiu dentro de mim há dezoito anos, isto só aconteceu vendo “Menina de Ouro”.
Diante da necessidade e possibilidade da eutanásia – seja ativa ou passiva – para tomar a decisão você tem que separar a razão da sensibilidade. A razão toma a decisão, deixa-se pra chorar depois. Sabendo que é a decisão sem retorno. Nisso difere de qualquer outra. Decidir se alguém precisa morrer naquele momento é abrir mão de todos os pequenos milagres de que se compõe a vida. Basta pensar no mundo caótico em que vivemos. A maioria sobrevive até o fim de cada dia. Mas que milagre pode acontecer a um doente terminal de câncer? Há probabilidade tangível de alguém em estado vegetativo reverter à vida normal? Mesmo que a cura seja descoberta hoje, quando o doente terá acesso a ela? E terá recursos pra isso? Até quando terá que padecer? Quem já passou por uma dor lancinante, sem alívio, por horas ou dias, sabe do que estou falando. Pior ainda se não pode expressá-la. Entre a possibilidade de se gastar recursos na tentativa de salvar um animal em situação extrema e cuidar de vários outros com possibilidades reais de uma vida plena, qual a decisão a tomar? Nesses momentos é a sensibilidade – contraditória e dolorosamente – que nos induz a assumir a racionalidade: as duas faces da moeda se separam e nos arrogamos o papel de Deus. A piedade tem mais de uma cara.
A Igreja diz que só Deus pode determinar a hora da nossa morte. Um assassino é um instrumento da vontade de Deus, então? Se for assim, onde fica o livre arbítrio do assassino e de todos os seres humanos que os faz culpados dos pecados que praticam – diante de Deus – e de seus eventuais crimes diante da sociedade? Se Deus determina a hora final de cada um de seus pequeninos, ele deve viver eternamente infeliz. Pois tem que dar a ordem fatal, a cada segundo; e deixar pra chorar depois.
É muito difícil ser uma Meg Fitzgerald. É muito difícil ser um Frankie Dunn. Porque é muito difícil ser Deus.
segunda-feira, fevereiro 9, 2026
Bem-vindo! Entre na sua conta
Recuperar senha
Página Editora, atuando desde 1997 na Zona Oeste de São Paulo. Sua grade de publicações inclui um Jornal semanal com distribuição gratuita porta a porta. Estabelecendo canais de comunicação para a sociedade, contribui de forma ativa para o desenvolvimento econômico e social na região.
Entre em contato: redacao@guiadavila.com
© Copyright 2015 - Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem a autorização da Página Editora e Jornalismo.