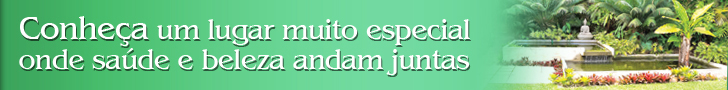Pedro Costa
Não sei até hoje qual o gozador que disse: “A fumaça expelida das chaminés do Gasômetro cura bronquite, tosse comprida e coqueluche” Sei dizer que era lá no Brás, antigo bairro do Gasômetro, ao lado do rio Tamanduateí, que enfileirava velhos e crianças sentados respirando fundo entre chiados e tossidas, de bonezinhos de orelha, japonas, cachecóis e ponchos, aquela incessante fumaça branca que acumulava no ar. Era inalada com um misto de esperança e paciência num “fog” cinematográfico em cena de pós-guerra. O chão estremecia a cada hora, o ranger de ferro com ferro aumentava e após uma ríspida parada, surgia da neblina o bonde vermelho, despejando alguns pais com seus filhos no colo, alguns já aparecendo os sapatos Vulcabrás dos manhosos pimpolhos. Outros eu reconhecia do inverno passado, havia um olhar de cumplicidade, pois apesar de tudo, era um programa das férias.
O apito da fábrica tocava, era a hora da saída e da nossa retirada. Os garotos maiores faziam um pouco mais de cena para sair, enquanto éramos contemplados pelos beliscões de bochechas das belas operárias italianas peitudas.
Tinha início o inverno. Ir ao Gasômetro era um tratamento. Cura mesmo só com “simpatias” diziam as comadres. A bronquite nunca foi o problema, confesso. Julho era uma atenção quase exclusiva para quem tinha muitos irmãos como eu.
Assim o primeiro bife era o meu, a janelinha no velho Bel Air era minha e a lata de biscoitos Aimoré também. A bronquite e seu pequeno portador tinham a preferência. E a banana escondida que mandava para os meus irmãos compensava aquele chiado pentelho no peito, nem sempre sincero.
Quando a bronquite pegava mesmo, aí nem ungüento de fubá no peito, nem leite queimado com canela acalmava. Nesse momento, meu tio Toninho Cardoso, chegava de Bauru com meus primos para passarem as férias de julho em são Paulo. O bom padrinho, nem acabava de descarregar o carro, via a aflição de minha mãe, imediatamente colocava-me no banco de trás do Aero-Willis e seguia para a Serra do Mar. Começando a serra, diminuía a velocidade. A janela aberta, a paisagem verde oliva, o cheiro da brisa do mar aos poucos ia mandando a asma passear, com o queixo no braço apoiado na janela, o vento leve despenteando meu topete bodinho aos poucos acalmava meu peito com ozônio, iodo e carinho. Muitos julhos depois, a bronquite aprendeu a esperar meu Tio Toninho chegar.
Cada tempo tem os seus modismos. A medicina também. Nessa época era moda tirar as amídalas. Assim uma geração inteira ficou sem. Depois veio a moda do apêndice, em seguida a do dente do ciso. Agora querem pôr umas coisas a mais. Mesmo sem as amídalas a bronquite continuou. As tentativas foram inúmeras. Mas as “simpatias” ganhavam de longe. Dormi boa parte da infância com duas enormes tartarugas debaixo da cama. Foi dito ao meu pai, que o ar exalado por elas continha uma substância vital para os asmáticos respirarem. A de pêlo de gato torrado, colocado embaixo da língua por sete luas cheias, era tiro e queda para bronquite. Outra capciosa também pedia para a criança encostar a cabeça no batente da porta de casa, na medida da cabeça, furar o batente, colocando um chumacinho de cabelo dentro, quando a criança ultrapassasse a altura do furo, era o sinal que a bronquite havia ido embora.
Certa vez meu pai trouxe do então magazine “Ao buraco da Onça”, um saco cheio de bexigas. Foi dito por um médico que eu deveria encher o quanto pudesse as bexigas. Abandonamos a idéia depois de uma cãibra forte que travou minha boca de tanto assoprar os famigerados balões. Até hoje, nem em festa de criança eu vou, só para não ver bexigas.
A mais terrível foi a de ser acordado durante a noite, para minha mãe me colocar no chuveiro frio durante um ano. O ilustre homeopata acreditava que asma era excesso de zelo e o choque térmico com água fria completaria a cura da bronquite. Foi minha primeira pneumonia. E talvez a “simpatia” mais cruel, teve por fim um desfecho feliz. Era simples de executar, duro de engolir: “Três goles de sangue de carpa fresca”. Ou seja, o peixe ainda vivo. Compramos numa peixaria, num tanque de carpas vivas a pobre coitada. Chegando em casa, seguimos o que a simpatia pedia. Depressa soltei a carpa que ainda se movia na banheira de casa com água, para em seguida ir para segunda parte. Era só pegar a carpa colocá-la na tábua, segurá-la com uma mão e a outra com uma faca bem afiada cortar sua cabeça e em seguida despejar seu sangue num copo e…Durante dois anos não usamos a banheira, meu pai mudou o chuveiro para o lado. A carpa ficou na família. Já enorme e bem gorda, morreu de tédio, indo para frente e para trás. Morreu de morte morrida, não de morte matada, profetizou meu irmão mais velho.
Chegava o mês de agosto, acabavam as férias de julho, tudo voltava ao normal. O mês do “cachorro louco” para mim era julho e não agosto.