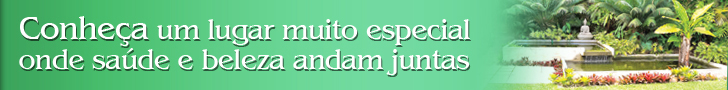O que não falta ao jornalista Mouzar Benedito são histórias para contar. Mineiro de Nova Resende, há muito tempo morador da Vila Madalena, Mouzar estudava Geografia na USP em um dos períodos mais marcantes da história brasileira: a ditadura. Ele acompanhou bem de perto toda a reviravolta cultural, social e sexual da época, e também toda opressão política.
Mouzar reúne essas histórias no livro “1968, por aí… Memórias burlescas da ditadura” (Publisher Brasil), que acaba de ser lançado no Canto Madalena, na Vila. Ele foge do convencional e conta o lado “engraçado”, situações que aconteceram quase que nos bastidores de toda aquela revolução. Como ele escreve, “sem menosprezar o sofrimento das vítimas, a indignidade dos ditadores e seus sequazes, o heroísmo da resistência, é preciso ter humor”.
O livro será relançado em 24 de junho, às 18h, na Cinemateca, com debates sobre o ano de 1968.
O livro traz histórias que você viveu na época da ditadura?
É. A editora queria um livro sobre 1968, tipo ensaio. Mas já tem muito ensaio. Eu preferi fazer uma versão minha. Em 1968, eu estudava na Faculdade de Filosofia que era o maior reduto de resistência à ditadura. E morava no Crusp, que era o segundo maior reduto. Era impossível a gente não viver aquele momento com intensidade. Eram momentos muito bons, a gente sentia que fazia parte da história. Não como protagonistas. Mas o que estávamos fazendo estava mudando o mundo. Sentia isso. Aquela música do Ataulfo Alves que diz: “Eu era feliz e não sabia”. Na época era: “Eu sou feliz e sei”. Aquele foi realmente um ano em que o mundo virou de pernas para o ar. Tinha muita coisa acontecendo simultaneamente. Eu não gostava dos Beatles, por exemplo. Tinha tanta coisa boa brasileira para eu gostar. Para que ia gostar de Beatles? Achava chato. Tinha o Vandré, o Tropicalismo, Chico Buarque no auge, Elis Regina, os baianos todos, Caetano, Gil… Era tanta coisa. No Crusp, como a maior parte do pessoal que morava lá era muito dura, esses cantores iam se apresentar, de graça. Ou eles ou grupos de teatro. Teatro de Arena, Roda Viva, do Chico. A pílula anticoncepcional estava sendo popularizada; a guerra do Vietnã estava acontecendo, o mito do Guevara estava começando a existir. Tinha torcida de tudo. Manifestos contra músicas nos festivais.
É possível mostrar o lado engraçado de uma época marcada pelo sofrimento de uma geração?
Teve muito sofrimento, muito heroísmo na época da ditadura, mas eu cansei de ficar falando disso. Quis pegar o lado imbecil da ditadura, algumas bobagens que a gente fazia. O ano de 1968, para nós, começou antes de maio de 1968, na França. No final de fevereiro o movimento estudantil já começava a se organizar para março, quando chegassem os calouros, protestar contra o acordo MEC-Usaid (fusão entre o Ministério da Educação e a United States Agency for International Development, com o objetivo de aperfeiçoar o modelo educacional brasileiro). A Usaid era uma instituição norte-americana de “ajuda” a outros países. O que eles faziam não era bem ajuda. Aqui, eles estavam fazendo um acordo com o Ministério da Educação, que era para direcionar as universidades para os interesses das indústrias, principalmente as multinacionais. Por este acordo, as faculdade de ciências humanas, por exemplo, degringolavam. Tinha o imperialismo, a gente protestava contra a ditadura, e tinha a questão dos excedentes. Hoje não tem mais isso. Tinha que tirar cinco em todas as matérias para entrar na faculdade. Só que, às vezes, passava mais gente do que o número de vagas. Defendíamos que eles entrassem também. Em março, houve um protesto no Rio de Janeiro e foi morto um estudante. Na França a coisa foi começar em maio e os estudantes fizeram o primeiro protesto para que acabassem as barreiras entre os dormitórios masculino e feminino. Eles lutavam por mais liberdade. A nossa luta aqui era diferente. Tem um lado trágico também, mas tem um lado divertido. No final do ano, com o AI-5, invadiram o Crusp e levaram 1300 presos. Eles revistaram todos os apartamentos procurando material subversivo. E lá não tinha somente gente de esquerda. Tinha um grupo de japoneses, que era racista. Eles conversavam em japonês para ninguém conversar com eles. Um desses japoneses veio do Japão na barriga da mãe. Quando o navio encostou em Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, ele nasceu. Os documentos dele eram de vietnamita. Ele era tão fanático que tinha uma coleção de punhais na parede. Quando o exército chegou lá e viu isso, pegaram os documentos dele e viram que era do Vietnã, o cara apanhou muito. Outra história é sobre um estudante de engenharia que tinha um livro de capa vermelha publicado pelo departamento de língua estrangeira da Universidade de Moscou. O nome do livro era Bombas Hidráulicas. A polícia achou que fosse algum tipo de bomba.
Você ficou quanto tempo preso?
Eu saí logo. Dos mil e tantos presos, só quatro foram levados para o Dops (Departamento de Ordem e Política Social), eu um deles. Meu apartamento tinha sido saqueado, assim como todos. Levaram tudo, material de topografia importado… Fiquei indignado, queria voltar para reclamar disso. Tinha um troço chamado inquérito policial militar e eles ficavam procurando motivo para justificar a invasão. A coisa que eles mais falavam é que havia pílulas anticoncepcionais nos dormitórios femininos. Eu participava dos movimentos estudantis, essas coisas. E teve uma vez que eu estava trabalhando, eu era técnico em contabilidade na prefeitura, e saí com um amigo para fazer um trabalho fora. Acabamos passando onde a sobrinha dele trabalhava. E ela trabalhava no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Quando vi onde era, falei que não entraria. Tinha sido preso recentemente, além disso, tínhamos expulsado um policial da Cidade Universitária. E se alguém me visse saindo de lá podia achar que era dedo duro. A sobrinha dele era muito simpática. Bom, depois de dois dias ele chegou no trabalho e falou no meu ouvido: a minha sobrinha mandou te avisar que você não tem mais ficha no Dops. Naquele dia ela recebeu um monte de fichas e viu a minha, com fotos. Rasgou e jogou fora. Na época foi bom, me livrou um pouco a barra. Mas recentemente fui ver minha ficha e achei tão sem graça…
No livro você também conta histórias sobre a imprensa da época.
Sim. A imprensa, na época, teve fases boas e fases difíceis. Praticamente toda a imprensa apoiou o golpe de 64. E eles só começaram a virar um pouco contra, os grandes jornais, quando começaram a sentir a barra virar contra eles. O Correio da Manhã, do estado do Rio, quando começou a criticar a ditadura teve um sufoco fiscal e econômico em torno dele que acabou fechando. E ele tinha pedido o golpe antes. O Estadão também só começou a reagir à ditadura quando começou a ser censurado diariamente. Tinha censores dentro da redação. A Folha nem isso fez, nem reagiu. Cortou até os editoriais. A Folha da Tarde, que era um jornal considerado até meio ‘esquerdoso’, porque tinha o Frei Beto como editor, de um dia para o outro demitiu todo mundo que era de esquerda, que tinha algum vínculo com algum movimento político, e encheu de policiais para editar. O jornal passou a dar a versão do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna), da Oban (Operação Bandeirante), que era o órgão de repressão do estado. A Oban matava alguém e o jornal publicava que a pessoa tinha morrido atropelada. Ficou conhecido como o jornal de maior tiragem do Brasil: tinha o maior número de tiras na redação.
Isso deu margem para surgir a imprensa alternativa?
O grande momento da imprensa alternativa foi o surgimento do Pasquim, que era um jornal de humor, que criticava a Ditadura radicalmente, e que fascinou todo mundo. A tiragem chegou a 220 mil exemplares. Mas prenderam a redação inteira, só escaparam o Millôr Fernandes e o Henfil. E eles continuaram publicando o Pasquim. Não podiam nem noticiar que a turma estava presa. Alguém tinha que desenhar igual ao Jaguar, por exemplo. E o jornal enfraqueceu muito. Em 1972 surgiu o Opinião, um jornal nacionalista, mantido pelo Fernando Gasparian. Depois surgiu o Movimento. Em qualquer lugar que você fosse, no Brasil, tinha um jornal alternativo. No Piauí tinha o Chapadão, no Pará tinha o jornal Resistência. Em Manaus, tinha o Jornal da Amazônia, no Espírito Santo tinha o Oposição. Em Minas tinham vários. O jornal mais bonito deles foi o Versus. Em 1977 ele foi lançado, logo depois da morte do Herzog (jornalista Vladimir Herzog). Ele era tão bonito que parte da esquerda criticava. Diziam que um jornal de esquerda não poderia ser tão bonito. Tínhamos a pretensão de colocar este jornal para circular na América Latina inteira. Eu fui um dos fundadores dele.
O que falta na imprensa hoje?
Está faltando rebeldia nas pessoas, nos próprios jornalistas. O pessoal aceita. Junta um monte de coisa… Não acho que o pessoal da geração atual seja culpado. Eu trabalhava de graça, era militante na imprensa alternativa, mas tinha outras fontes de renda. Hoje as faculdades formam dois mil jornalistas por ano em São Paulo. Só em Campinas tem três faculdades de jornalismo. E só tem um jornal na cidade. Ninguém pede demissão. Muita gente vai para a assessoria de imprensa. A tecnologia veio para ajudar mas às vezes ela também tem um lado negativo. Quase todas as empresas têm uma assessoria de imprensa que descarrega pela internet todo material. O pauteiro, a função dele é ficar na internet vendo o que interessa ou não. E depois ele passa a pauta para o jornalista e o que o cara faz é ligar e pegar uma frase para colocar entre aspas. Não vai a campo. No ano passado morreu um grande repórter chamado José Roberto Alencar. Quando ele morreu a Folha fez uma matéria até boa sobre ele, falando que era um jornalista que não aceitava certas coisas. E uma característica dele era que não fazia matéria por telefone. A Folha falou isso o valorizando, mas ele não arrumava emprego nem na própria Folha. O mundo está numa fase meio besta. Acredito que isso seja cíclico. Teve outros momentos assim, meio bestas, e em algum momento vamos ter que reagir. A própria vendagem dos jornais está caindo. O noticiário de televisão está tudo igual.
Tentaram mexer na Lei de Imprensa. Qual sua opinião?
À princípio, eu torci o nariz porque eles tentaram fazer uma coisa estilo OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ao invés de fazer uma coisa crítica… O Código de Ética do Sindicato não funciona! Acho que seria uma coisa para ticar mais dinheiro. Hoje em dia, quando se fala em cercear qualquer coisa da imprensa, pode fazer o que quiser, desde que não cerceei o interesse do patrão. Ninguém está preocupado com a defesa da profissão.