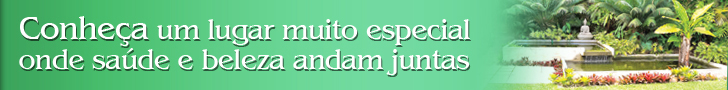As viagens pelo Brasil e pelo mundo renderam ao jornalista Gilberto Dimenstein muito mais do que o prazer de conhecer novas culturas. A questão da violência e as formas de inclusão social são assuntos bastante abordados pelo jornalista em seus livros, projetos e reportagens, e, desta vez, não seria diferente.Dimenstein está lançando o livro “O mistério das bolas de gude: Histórias de humanos quase invisíveis”, pela Papirus Editora, onde conta histórias de personagens de diversas origens, com histórias bem parecidas: o desejo de criar alternativas à desesperança vivida pelos que se encontram em situação de risco. O jornalista constrói um painel sobre a evolução da criminalidade para mostrar que a inclusão social é possível mesmo no cenário mais desfavorável, seja para uma criança que vive nas ruas ou para um criminoso atrás das grades da prisão.
“Nos últimos 16 anos, tenho feito uma série de reportagens, artigos, livros, sobre a questão da violência em lugares onde eu morei e visitei, como bairros de Nova Iorque, Recife, Rio e Manaus. Trabalhei com as mais diferentes formas de violência e quis sistematizar essa grande viagem que fiz. Mas não quis mais denunciar a questão da violência em si porque era uma coisa que já havia feito há muito tempo. Já havia falado da exploração sexual de meninas, de educação, trabalho infantil… Quis focar um ângulo específico, que é o da invisibilidade, a ponta da exclusão, ou seja, os seres invisíveis são as pessoas esquecidas pela sociedade, não fazem parte de nenhum grupo, não são respeitadas em nenhum espaço. O primeiro passo para a violência não é a pobreza, mas a sensação de que você não pertence a nada”, explica Dimenstein.
A partir deste olhar, ele relata experiências em que essas pessoas “invisíveis” alcançam a inclusão por meio da arte, da educação, da dança, da música. “O que mais me encantou foi justamente ver situações de extrema degradação onde foi possível um encantamento. Vi poesia concreta feita por presidiários nos Estados Unidos, jovens de gangues recuperando bairros, chefes de gangues se tornando apartadores de brigas em escolas públicas americanas. Em São Paulo, vi a experiência da Vila Madalena, que se tornou um bairro escola. Vi histórias de meninas como a Esmeralda, que morava nas ruas do bairro”.
Para o jornalista, a Vila é o bairro do futuro por causa da sua diversidade cultural e de classes. Há pessoas formadoras de opinião, com alta escolaridade e que investem em atividades de lazer, entretenimento, design, moda e artesanato, ao mesmo tempo em que ainda há crianças brincando de subir em árvores e uma vida noturna agitada. “Ou seja, é uma síntese de São Paulo”, acrescenta.
No livro, Dimenstein também conta histórias de vários personagens do bairro, como o presidente do Centro Cultural Vila Madalena, José Luiz Penna, e o músico Guga Stroeter, que chega ao bairro com uma proposta diferente: o Studio SP.
Gilberto Dimenstein obteve reconhecimento dentro e fora do Brasil por suas reportagens investigativas. Já foi agraciado com o grande Prêmio Jabuti de Livro de Não-ficção e ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Seus livros “Cidadão de papel” e “Aprendiz do futuro” são utilizados nas escolas para estudos sobre cidadania. É também o idealizador da Cidade Escola Aprendiz, experiência de educação comunitária considerada referência mundial pela Unesco e pela Unicef.
O lançamento de “O mistério das bolas de gude: Histórias de humanos quase invisíveis” será no dia 23 de janeiro, às 19h30, no Museu de Arte de São Paulo (Masp). A seguir, você pode conferir um dos capítulos do livro, na íntegra.
CAPÍTULO 6
A universitária Esmeralda, ex-menina de rua, fazia parte dos personagens que se encaixam no ambiente de alegre resistência da Vila Madalena, onde fui morar.
A Vila como a conhecemos hoje – reduto de boêmios, descolados, intelectuais, artistas das mais variadas tribos de alternativos – nasceu na década de 1980. Até aquela época, a boemia paulistana tinha sede no Bexiga, onde a língua oficial, durante muito tempo no século passado, foi o italiano. Antes disso, servira, o bairro e duas matas, de refúgio para escravos fugidos. Dizem que lá teria nascido o sotaque paulistano italianado. O Bexiga compunha-se de casinhas – uma delas ocupada por Meneghetti – e cortiços que se entrelaçavam. Tal geografia permitia que os marginais se sentissem razoavelmente seguros; marginais, no caso, eram os batedores de carteira, profissionais que, habilidosos, surrupiavam carteiras com mãos leves. Apareceram no Bexiga as cantinas, que ensinariam a gerações os prazeres da culinária italiana, e os barzinhos, que enchiam à noite, tudo isso em meio a uma intensa atividade teatral. Como muitas das referências paulistas, o Bexiga, pouco a pouco, foi perdendo clientes e foi sendo substituído pela Vila Madalena.
Nos primeiros 30 anos do século passado, só se chegava à Vila Madalena a pé ou a cavalo. Depois de mais de 40 anos, não passavam de um acanhado povoamento de casas térreas, habitadas em sua maioria por portugueses. Na frente do número 915 da Fradique Coutinho, que hoje exibe a placa sobre o último “trabalho” de Meneghetti, passava o bonde. O menino Antônio Ivo Pezzoti distraía-se com a atitude de “seu” Waldemar, o condutor do bonde, que parava em qualquer lugar, tivesse ou não ponto – privilégio garantido por ser amigo do vigário.
Nas suas recordações, Antônio contava sobre Waldemar brecando subitamente para que Marisa, uma jovem de tranças douradas e uma trouxa de roupa na cabeça subisse. No ponto da esquina com a Aspicuelta, um homem alto e muito magro, vestido de terno e gravata, espera o bonde. Absolutamente imóvel, parece um monumento. Não faz sinal. Mas seu Waldemar conhece bem o homem. Sabe que ele tem alguns parafusos a menos e por isso tem o direito de não fazer sinal. Seu Waldemar aprendeu com o avô que é preciso respeitar os loucos, porque eles é que são certos. Espera pacientemente que o homem suba. É um ritual o embarque do louco.
Para a alegria dos boêmios e desespero dos moradores, aquela calma se desfez para dar lugar a um bairro que passou a ser freqüentado, à noite, por pessoas bem mais doidas – muito mais ruidosas – do que o passageiro do seu Waldemar. Na década de 1970, a ditadura fechou a residência dos estudantes transgressores da Universidade de São Paulo. Nas proximidades da USP, eles acabaram se encontrando na Vila Madalena, região com jeito provinciano e, mais importante, aluguéis baratos. Surgiu na rebeldia estudantil a imagem de bairro alternativo, que misturava artistas e hippies. Depois chegariam os exilados das ditaduras da Argentina e do Chile. A boemia seria apenas uma conse qüência para aqueles amantes de festa e noitada. As casinhas edículas abrigariam ateliês de pintores, escultores, designers de jóias, roupas, móveis e brinquedos; estúdios de fotografia e produção de vídeo; centros dos mais variados tipos de massagens e terapias da Índia ou China.
Um dos mais importantes “vilamadalenólogos”, Ênio Squeff, pintor e crítico de música, registra que o primeiro boteco boêmio – o Sujinho – só apareceu em 1978. O nome oficial do estabelecimento, que não pegou, era o americanizado Snack, num contraste com os nomes das ruas: Harmonia, Girassol, Fidalga, Original, Purpurina, Simpatia. No Sujinho, marcariam presença Raul Seixas e Arrigo Barnabé, tomando uma cerveja. Os locadores não exigiam qualquer papel para que os sujeitos com barbas e as mulheres com suas vastas cabeleiras se instalassem em seus imóveis. Bastava a palavra, relata Ênio, gaúcho, morador da Vila desde o começo da década de 1970.
Um dos personagens típicos da Vila é o músico baiano José Luiz Penna. Veio para São Paulo em 1973, para atuar na peça Hair, em que os atores – incluindo a atriz iniciante Sônia Braga – ficavam nus no palco, o que, na época, era um escândalo. Penna manteve a barba e o rabo de cavalo, saiu dos palcos e adentrou na política. Claro, como era previsível para alguém da Vila, no Partido Verde, que presidiu.
Apesar da especulação imobiliária, a Vila Madalena continua a ser um espaço diferenciado na cidade, onde ainda se consegue apreciar, no final de tarde, crianças brincando na rua, senhoras conversando nas calçadas. Convivem ali, entre as ladeiras, provincianismo e cosmopolitismo, manifestos de arte do compositor e dançarino pernambucano Antônio Nóbrega, ao exibir, em seu teatro Brincante, uma coreografia inspirada nos movimentos da capoeira, ao som de Bach; ou num improviso de Wynton Marsalis com tocadores de chorinho, divertindo-se no Crisantempo, um galpão de ensino de dança contemporânea.
Um dos sócios desse galpão é Guga Stroeter, um mapa vivo dos roteiros alternativos paulistanos. Estudou no Colégio Equipe nos tempos do regime militar, desbravou as praias de Ubatuba e do dul da Bahia. Fez psicologia na PUC e preferiu seguir a carreira de músico. Ajudou a formar bandas fora do circuito comercial e tocou com Caetano Veloso, Milton Nascimento e Rita Lee. Abriu casas de show com espaço para experimentação, como o Blen Blen. Ajudou a desenvolver uma incubadora de artistas das mais diversas formas de expressão como teatro, música, literatura, artes plásticas, multimídia, fotografia – todas se alternando, em diferentes dias da semana, no mesmo espaço em que os artistas aprendem, ensaiam e se apresentam. A aposta de Guga é a de que faltam palcos para os experimentadores mostrarem seu trabalho sem custo e, assim, conseguirem viabilidade. Daí nasceu a proposta desse misto de centro cultural com incubadora, batizado de Studio SP, que só podia estar na Vila Madalena. Na visão de Guga, ali, o alternativo faz parte da rotina. O bairro não se espanta, nem, se choca, só atrai.
A mistura de provincianismo com cosmopolitismo aparece até num surfista, como é o caso de Gregório Motta. Ele tinha optado pelo curso de desenho industrial, mas estava indeciso se queria mesmo entrar naquela faculdade. Não conseguia ver como ganharia dinheiro, uma vez formado (se fosse até o final). Parecia-lhe desperdício de energia desenhar produtos comerciais para serem fabricados em série. Amedrontava-o a perspectiva de usar roupas formais; só gostava de andar de camiseta, bermuda e sandália ou tênis. Tinha pavor especialmente da rotina e de ficar recebendo ordens.
Salvou-se porque, desde pequeno, acompanhava o pai – Carlos Motta, designer de móveis e surfista, cuja marcenaria fica na Vila Madalena – pelas mais diferentes praias do mundo, do litoral de São Paulo até a Indonésia. Viajar pelo mundo era encontrar praias. Como era previsível, virou surfista. Além de seguir a paixão paterna pelo mar, ele prestava atenção nos móveis que o pai construía.
Com o diploma na mão, não sabia por onde começar. Não tinha imaginado que, na faculdade, sem saber, estava o encontro do desenho industrial com as ondas. Como viajava para o Havaí para se divertir nas ondas, conheceu algumas oficinas em que se produziam pranchas artesanais. Não lhe parecia difícil fazer pranchas, e aceitou encomendas de amigos surfistas. Pouco a pouco, foi ganhando clientes. “Não me incomodava perder tempo em cada prancha, queria mesmo um trabalho artesanal”. Montou seu próprio ateliê, para atender os poucos pedidos. Com a proximidade das férias, sem que tivesse feito nenhum plano de negócios e despreocupado com as margens de lucro, percebeu que já não dava conta do crescente número de encomendas. “Prefiro não mudar de ritmo”. Nem mudou seus planos de passar as férias no Havaí, onde aprendeu a mesclar dever e lazer, fazendo estágio na oficina de um dos maiores designers de prancha de surfe de lá.
Grudada no ateliê de Gregório, vemos uma oficina de crianças cientistas chamada Tempo e Espaço. Seu criador é o professor de marketing industrial da Fundação Getúlio Vargas, José Carlos Teixeira Ferreira, disputado consultor de empresas nacionais e multinacionais. Mas ele gosta mesmo é de ajudar as crianças a inventar brinquedos. Dos projetos rabiscados nas pranchetas com a ajuda de engenheiros, alguns deles aposentados, saem aviões, robôs, marionetes controladas por computador e até um kart com motor elétrico. Ou, simplesmente, carrinhos de madeira e bonecos de pano. “Os empresários ficam impressionados com as engenhocas desenvolvidas”, orgulha-se José Carlos, que, quando criança, adorava construir aviões com o pai e, já adulto, divertia-se consertando os brinquedos dos filhos dos amigos.
Seguindo pela mesma rua – Aspicuelta -, em direção à Fradique Coutinho, encontramos brinquedos bem menos sofisticados, desprovidos de chips, mas com uma boa história para contar. Desempregada, Joyce cortava gastos sem parar. Logo no primeiro mês, cortou a assinatura de uma revista e deixou de ir ao cinema – um dos meus prazeres prediletos. Parou de ir a restaurantes e desistiu do plano de saúde. Resistiu o quando pôde, mas cedeu: nada lhe doeu mais do que ter de deixar a faculdade de psicologia. Isso para mim era o fim da linha. Quase não tinha mais nada para reduzir em seu orçamento quando foi salva por uma brincadeira de infância e acabou virando empresária.
Negra, de olhos castanhos (“a cor dos olhos é herança de meu avô, que veio do Egito”), Joyce cresceu com uma avo que lhe fazia, com meias velhas, bonecas negras. As primas e primos, além de alguns amigos negros, seduziam-se pela destreza daquela habilidosa avó, com suas originais bonecas. As bonecas faziam um sucesso danado.
A boneca virou, na família, mais um detalhe para discutir preconceito racial. Só havia bonecas brancas, quase sempre loiras. A própria Joyce sentiu, diversas vezes, o peso da cor. Certa vez, a professora pediu que os alunos trouxessem um recorte de jornal ligado à profissão que gostariam de seguir. Joyce levou uma propaganda com a foto de uma aeromoça. Seja por preconceito, seja por sentir que a menina estava fantasiando um futuro impossível, a professora deu-lhe, ali mesmo na classe, a foto de uma mulher negra para incluir em seu trabalho. Era a foto de uma empregada doméstica. “Nunca mais me esqueci daquilo; era como se uma negra só pudesse ser empregada doméstica”.
Padecendo há 12 meses em razão do emprego, inspirou-se na avó e chamou a família para ajudá-la a criar bonecas negras, quem sabe ganharia algum dinheiro. “Ia para tudo quanto era canto vendendo meu produto”. Com o pouco que juntou, resolveu fazer uma aposta: abriu uma loja numa garagem de menos de 15m².
Lentamente foi chegando a clientela, na onda do politicamente correto e, mais que isso, em decorrência do crescimento da classe média negra. Significava mais dinheiro para seus negócios, sobretudo para voltar à faculdade. “Fui salva por uma brincadeira”.
Na mesma rua das crianças cientistas, das bonecas politicamente corretas e do surfista cosmopolita, Kátia Vasconcelos ensina, em seu minúsculo ateliê, como os diferentes tipos e cheiros de velas conseguem alterar seu estado de espírito. Na frente desse ateliê, oferece-se um banho de ofurô, depois de uma massagem feita por um psicanalista convencido de que combinar toques no corpo e conversas é remédio para distúrbios mentais.
Negras de olhos castanhos, surfistas designers, ex-meninas de rua fazendo faculdade compõem um divertida galeria de tipos humanos. Além de me sentir seguro de que teria condições de manter o hábito de andar a pé, a Vila Madalena, com esse clima de resistência comunitária, serviria para mim como um laboratório de aplicação de experiências de revitalização comunitária. Além da boemia, o bairro e seu entorno aglutinam algumas das mais importantes organizações não-governamentais não só de São Paulo, mas de todo o país. Nessa geografia do Terceiro Setor, aglutinam-se entidades como Cipó, Doutores da Alegria, Abrinq, Ethos e Cenpec, Ashoka, Cidade Escola Aprendiz e Sou da Paz.
Da Vila, sai a Expedição Vaga-Lume, um grupo de tre jovens que viajam por povoamentos isolados da Amazônia para implantar bibliotecas em escolas públicas, treinar professores e mobilizar a comunidade para transmitir às crianças o encantamento pela leitura. Na aventura de levar a luz das letras pela floresta, Sylvia Guimarães, Maria Teraza Meninberg e Laís Fleury conheceram a miséria das escolas ribeirinhas – não tinham nem mesmo lousa e giz. Livros com histórias infantis eram artigos tão distantes quanto um computador conectado à Internet. Conseguiram o patrocínio de uma empresa financeira e até o apoio de presidiários de Belém. Com a garantia de que ganhariam redução na pena, os detentos aderiram à expedição. A sala de visitas da prisão recebeu um presente: uma biblioteca infantil e uma brinquedoteca para alegrar a visita dos filhos dos presos.
Nesse ambiente de experimentação comunitária, crianças e adolescentes, aproveitando a vocação da Vila para as artes, recuperaram praças, postes, muros e calçadas, pintando, grafitando ou fazendo peças de mosaico. Estabeleceram, então, uma relação diferente, produtiva, com seu entorno, no qual se imaginam responsáveis e autores. Justamente nesse exercício colocaram as bolas de gude no bar sem nome da Belmiro Braga. Todos avaliaram que logo seriam arrancadas – como foram arrancadas as dezenas bolas de gude colocaras meses antes numa praça do bairro. Valia, porém, como teste de sobrevivência.
Para mim, a Vila não é um bairro, mas uma metáfora de resistência encravada em um local de 1,5 km² e 20 mil habitantes em uma cidade de 1,5 mil km² e quase 11 milhões de habitantes.